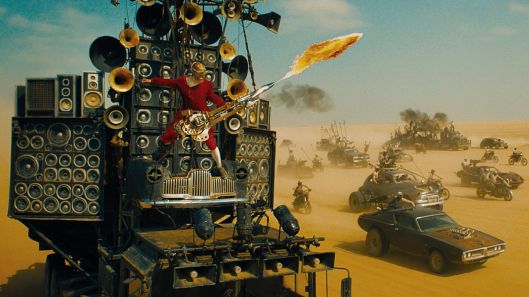Em seu subestimado O Rei da Comédia, filme de 1982, Martin Scorsese fez de Rupert Pupkin (Robert De Niro) um personagem que, obcecado pela fama, tinha a busca pela notoriedade como o seu único objetivo de vida. Passados mais de 30 anos, e contando com a ajuda de seu novo ator-fetiche (Leonardo DiCaprio), o diretor apresenta em O Lobo de Wall Street uma história que tem como eixo um tema que caminha lado a lado com a exaltação de celebridades que nada tem a oferecer além dessa alcunha: a procura desenfreada pelo dinheiro, que nesse universo tem um fim em si mesmo.
Inspirado em fatos reais, o novo filme de Scorsese é protagonizado por Jordan Belfort (DiCaprio), um personagem que está situado em um polo oposto do de Rupert Pupkin diante de um mesmo mundo desajustado e em crise de valores. Enquanto Pupkin é um outsider que tenta de alguma maneira se sentir como parte desse “show”, Belfort é aquele que comanda o espetáculo, ostentando e torrando os milhões de dólares provenientes de transações quase sempre ilegais e/ou imorais que executa em Wall Street. Tais diferenças não escondem o fato de que o empresário bem-sucedido e admirado pela sociedade (assim como o era Eike Batista há pouco tempo) é, essencialmente, um ser humano tão patético e vazio quanto o aspirante a comediante interpretado por De Niro.
Com o protagonista surgindo como narrador de sua própria história e se dirigindo diretamente ao público, acompanhamos sua trajetória desde a chegada a Wall Street – quando ele ainda almejava fazer um trabalho moralmente aceitável -, passando pela demissão após uma grave crise econômica e por sua reinvenção em uma corretora de segundo escalão cujo sucesso contribuiu para a própria ascensão meteórica como dono de seu negócio. Os rios de dinheiro conseguidos através da venda de ações sabidamente deficitárias a longo prazo são, claro, gastos sem nenhum tipo de pudor, financiando festas, bebidas, prostitutas, anões voadores, drogas e qualquer outro caminho possível para o prazer fugaz.
A riqueza só faz sentido naquele universo quando mostrada e invejada, como se vê na cena em que o personagem de Jonah Hill conhece o protagonista. Supõe-se que uma pessoa normal, quando perguntada por um estranho sobre a sua remuneração mensal, simplesmente diga que aquele é um assunto pessoal, mas Jordan Belfort tem orgulho de dizer o valor e até comprová-lo com um documento, embora fique claro que ele acha que merece muito mais que aquilo – noção que, por si só, já resume a ganância excessiva e cíclica desse ambiente.
Desse modo, a narração despudorada e bem-humorada de Jordan, que, mesmo sabendo tudo o que aconteceu, passa longe de demonstrar algum tipo de remorso, surge como um modo orgânico de apresentar um universo que se baseia na representação (construção de uma imagem de sucesso) e na falta de limites (as engrenagens do sistema se alimentam continuamente da insatisfação com o presente). Do mesmo modo, o uso recorrente do humor cai como uma luva para a filmagem de situações tão absurdas.
Há influência de muitos dos filmes anteriores de Scorsese em O Lobo de Wall Street: o senso de pertencimento a um grupo, a criminalidade descontrolada e a estética de Os Bons Companheiros e Cassino; o humor negro e nonsense de Depois de Horas; a perda gradual de controle e a megalomania do protagonista de O Aviador; além da já citada aproximação com O Rei da Comédia. São referências que engrandecem e passam longe de eclipsar as especificidades desse novo trabalho.
Scorsese faz um filme incomum para alguém com 71 anos, demonstrando vitalidade e coragem para lidar com um tema naturalmente explosivo sem as amarras do moralismo. Adotando o excesso como algo inerente à linguagem do filme, o diretor demonstra seu talento narrativo habitual através de recursos já consagrados, como seus famosos travellings, o “congelamento” de cenas e a narração irônica e complementar às imagens, conseguindo ainda retratar a alucinada mente dos personagens em passagens que ilustram essa subjetividade.
Nesse aspecto, a sequência em que o protagonista sofre os efeitos retardados de uma droga pesada que ingeriu se junta a outros grandes momentos da carreira de Scorsese, e ainda faz uma homenagem ao clássico Interlúdio, de Alfred Hitchcock (a diferença é que, enquanto Hitch mandou construir uma escadaria maior com o intuito de prolongar o suspense, Marty transmite o estado mental de Jordan através do número de degraus vistos por ele).
É verdade que o sucesso do filme também está muito relacionado à montagem sempre competente e criativa de Thelma Schoonmaker, ao roteiro inspirado de Terence Winter e ao elenco homogeneamente talentoso, mas quem merece uma exaltação à parte é Leonardo DiCaprio. Trabalhando com um diretor que, certamente, é um dos responsáveis pela sua consolidação como grande ator, DiCaprio tem aqui a melhor atuação da carreira.
Como Jordan Belfort, ele alterna com grande talento entre os registros cômico e dramático. Basta citar três momentos distintos para notar essa versatilidade: qualquer um dos discursos quase hipnóticos para os funcionários, a conversa cheia de entrelinhas com o agente do FBI e a excepcional cena da paralisia facial.
Naturalmente, haverá pessoas, como já ocorreu nos EUA, alegando que o filme defende e glamoriza as atitudes de seus personagens, acusação que foi feita a outros filmes de Scorsese, como Taxi Driver, e vira e mexe é apontada a filmes tão distintos quanto Clube da Luta e Tropa de Elite. Acontece que, além da narração em off, há uma série de outros elementos que refutam essa tese, sendo o principal deles a necessidade de um senso crítico do espectador.
O filme aponta explicitamente essa distorção de valores quando mostra que uma reportagem com teor crítico sobre as extravagâncias de Belfort acaba sendo recebida majoritariamente bem pelos leitores, que o transformam em uma nova celebridade. Até mesmo o apelido Lobo de Wall Street, que foi atribuído de modo depreciativo pela jornalista, acaba sendo adotado pelo público e pelo personagem como algo positivo, evidenciando a ambiguidade moral que o filme quer tratar.
Também fica difícil – ou deveria ser – admirar personagens retratados de maneira tão animalizada, algo que a hilária participação de Matthew McConaughey – fazendo um chefe que vê em Jordan os atributos para alcançar o sucesso em Wall Street – ilustra perfeitamente, seja através da música proveniente de uma batida no peito que o assemelha a um primata ou pelos conselhos para que o protagonista se drogue e se masturbe o maior número de vezes que puder durante o trabalho, algo que vai contra aquilo que justamente deveria ser o diferencial do ser humano: a racionalidade.
Jordan reconhece em uma das suas falas que, para um estranho, a rotina diária de seu escritório lembraria a de um hospício. Tenho para mim, porém, que aquele ambiente seria melhor definido como um zoológico no qual seus participantes jamais terão autocrítica suficiente para gritarem que não são animais, como fez Jake LaMotta na antológica cena de Touro Indomável.
Se você realmente se identifica com esse tipo de gente e acha que o filme os valoriza e defende, devo alertá-lo que o problema está nas suas convicções, não no filme. Aliás, essa falta de norte moral é, como já citei, uma das questões mais importantes de O Lobo de Wall Street. O movimento de câmera final só ressalta esse aspecto, situando o protagonista não como exceção, e sim como um triste produto de uma sociedade que tem membros que, se tivessem a oportunidade e a esperteza de Jordan, optariam por trilhar um caminho semelhante.
Nota: 9,0/10
*Texto originalmente publicado no site Cine Festivais.